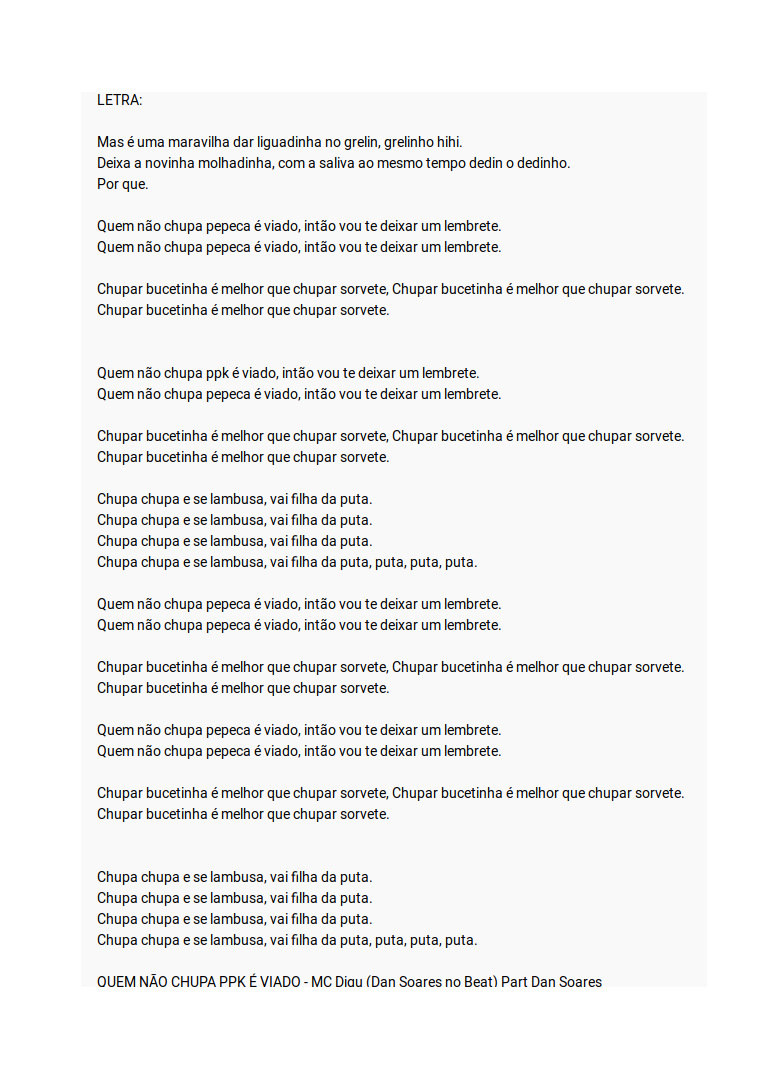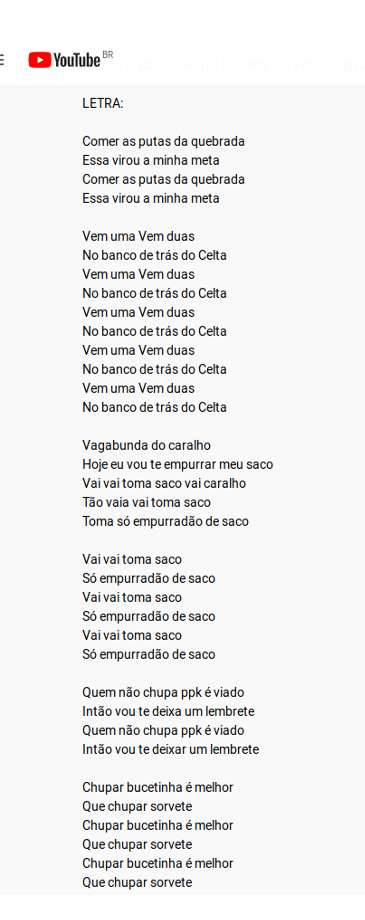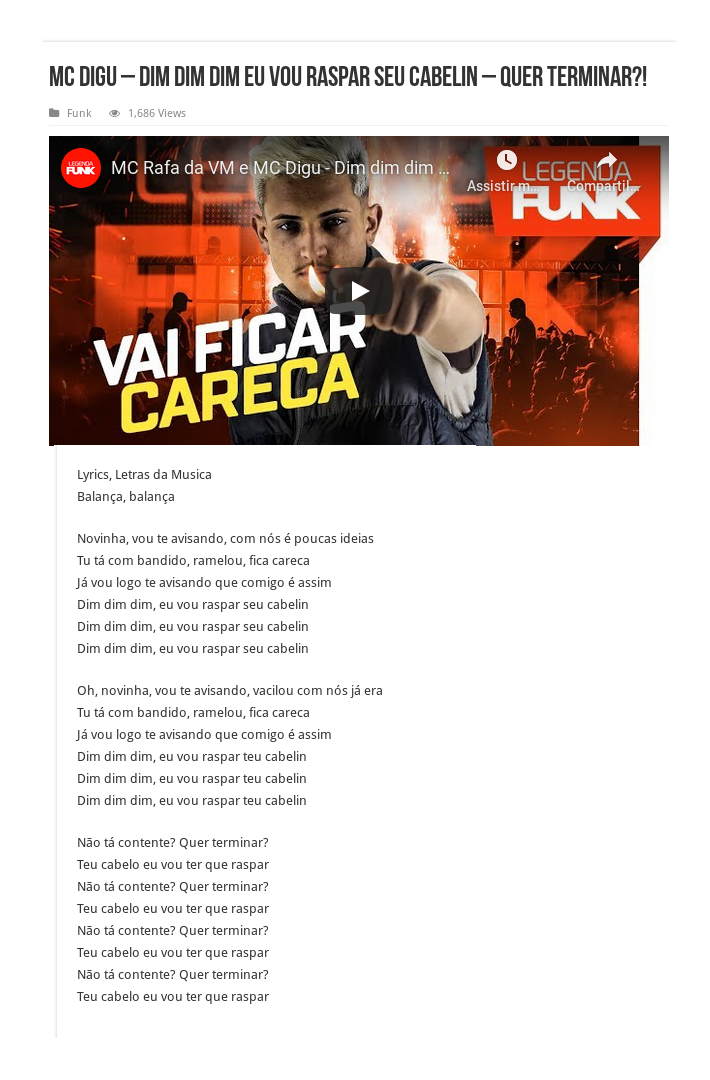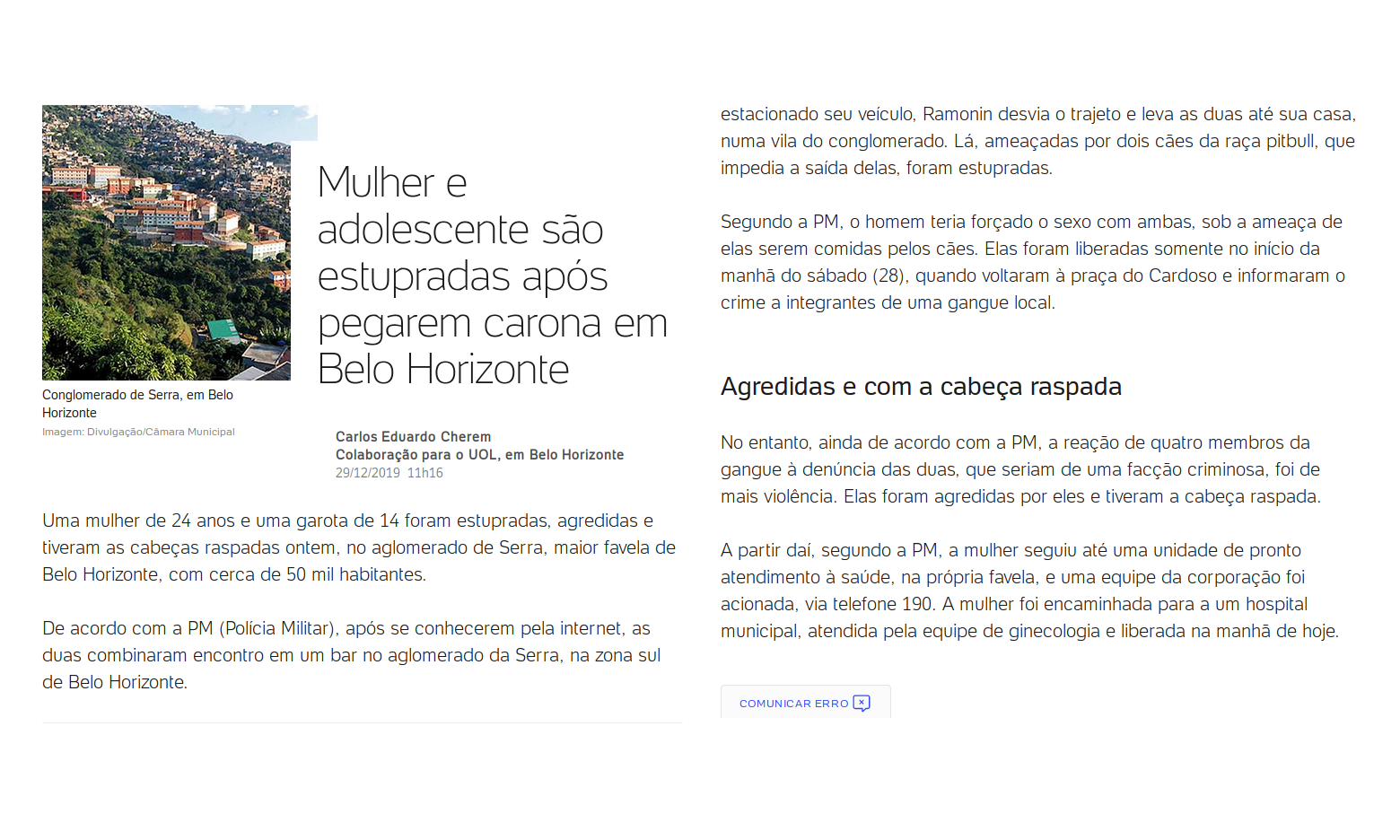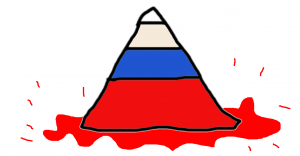Segunda-feira passada, 25/05/20, George Floyd, um homem negro de 46 anos, segurança, foi brutalmente assassinado por policiais brancos, em Minnesota, Estados Unidos.
Imagens do acontecimento foram gravadas e mostraram um homem negro desarmado e dominado pelos policiais. Um deles se ajoelhou sadicamente sobre o pescoço de Floyd, impedindo-o de respirar, o que pode ter sido a causa mais imediata da morte do homem.

Como resposta, grupos formados majoritariamente por homens deflagraram uma grande revolta, destruindo carros, estabelecimentos comerciais, instituições públicas etc. O fato foi amplamente divulgado pela imprensa mundial. Recebi, através minhas redes sociais, inúmeras manifestações de indignação contra o crime e de exaltação da revolta. Algumas pessoas se perguntavam porque não nos revoltávamos como eles aqui no Brasil e outras teciam elogios aos brancos “aliados” que heroicamente estilhaçavam vidros e ateavam fogo.

Mas eu não me senti contemplada com a estratégia dos revoltosos. Não mais. Antes, tal como minhas amigas e amigos virtuais, eu também me sentia realizada nesses atos viris. Eu também já desejei vê-los realizados no Brasil. Hoje, não mais.

Todas e todos somos educados desde o primeiro momento que saímos da barriga de nossa mãe a nos comportar de acordo com a lei do mais forte; mandando ou obedecendo, batendo ou apanhando, impondo ou nos submetendo à imposição. Essa lógica foi forjada em nossas consciências ao longo de milênios e é a mais pura expressão da cultura masculinista.

A revolta de Mineápolis é a expressão do valor dos homens negros estadunidenses enquanto grupo. É muito possível que esse valor também abarque os negros europeus. Mas nenhum outro negro da periferia do mundo, vítima do racismo institucional, obtém a visibilidade dos negros estadunidenses. É unilateral. Enquanto aqui, de modo correto, estampamos para todo o mundo a indigna condição do homem negro estadunidense. Eles não fazem o mesmo em relação à condição indigna dos negros de nenhuma outra parte do mundo.

O mesmo se dá em relação às mulheres, cuja cegueira é ainda mais grave. Nenhuma mulher brutalmente assassinada por ser mulher tem ou teve uma comoção transnacional. Nenhum feminicídio, que poderia ser tomado como o equivalente do assassinato de homens negros, tem sido sentido tão profundamente. Marielle, assassinada em 14 de março de 2018, foi uma exceção. Ela foi morta como uma política que defendeu heroicamente sua comunidade, seu povo. Não seria lembrada no mundo todo se tivesse sido assassinada por um eventual marido ou ex-marido.

Um outro motivo pelo qual o caso de George Floyd foi tão bem noticiado mundo a fora é porque os donos dos meios de comunicação, em sua imensa maioria (senão todos) homens, reconhecem nesses atos seu próprio modus operandi. Sabem que os oprimidos querem ser como eles.
Em março deste ano, as chilenas levaram às ruas algo em torno de 3 milhões de pessoas em protesto pacífico contra a violência contra as mulheres. Meses antes, elas também foram responsáveis por promover uma performance de dança e música contra a violência masculina que foi reproduzida por dezenas de milhares de mulheres ao redor do mundo, mas poucas pessoas não diretamente interessadas no feminismo tomaram conhecimento. E muitas das que tomaram conhecimento as ridicularizaram, porque não viram na ação delas um ato viril, másculo. Os homens, já dizia uma célebre feminista, não conseguem ver aquilo que não tem falo.

Outro fator que parece esquecido ou minimizado é que uma revolta como a de Mineápolis só é possível dentro dos limites dos países imperialistas, que buscam parecer mais civilizados e, assim, se diferenciar dos países barbarizados por eles. Os imperialistas, antes de dominar e colonizar os demais povos, tratou com sucesso de incutir sua moral política masculinista, sua noção de valor pautada na masculinidade, mas logo em seguida os emascularam. Ser homem, ser forte, ser digno, ser dominante, ser poderoso, é prerrogativa dos machos brancos dentro de cada núcleo hierárquico que participam. Desse modo, qualquer tentativa de ação viril pelos demais oprimidos, além de ser dura e barbaramente reprimida, penaliza desproporcionalmente às mulheres, essas que não foram consultadas sobre a revolta, que não estiveram envolvidas no ato, que não desejaram estar e até eram contrárias a ele. Mas no fim, são elas que terão de lidar com os feridos, os mortos e os encarcerados, bem como com os filhos desses feridos, mortos e encarcerados.
Cabe a nós, portanto, se queremos realmente pôr um fim nesse ciclo, redefinir os termos da luta. Audre Lorde certa vez disse que não podemos esperar desmantelar as estruturas criadas pelo senhor com suas próprias ferramentas. Creio que ela se referia ao algo do tipo. O assassinato de Floyd foi um ato racista, mas foi, sobretudo, um ato masculinista. Não nos esqueçamos que policiais negros também matam arbitrária e barbaramente, principalmente em países como o Brasil.
Esta crítica, contudo, definitivamente, não é um apelo à passividade. O racismo tem uma origem. Foi desenvolvido, praticado e aperfeiçoado primeiramente contra as mulheres. Esse conhecimento só a história das mulheres nos propicia, mas não podemos esperar que os homens nos provejam desse saber.

Assim, sem eliminar a causa raiz do racismo, que é a naturalização da dominação de mais da metade da humanidade, nenhum outro sistema de opressão poderá ser, de fato, destruído. E tudo o que teremos serão exibições pontuais de revoltas viris, com eventuais ganhos exclusivamente para a classe masculina negra melhor posicionada no sistema global de opressões.